Então, mais uma
vez, Viva Victor! Esse Victor Giudice inacreditavelmente presente ainda agora.
O mesmo que já estreava na literatura (Necrológio,
1972) com esse conto fantástico (“O
Arquivo”, republicado depois em oito
países), essa escrita seca, sincopada, surpreendente – que começava já na capa
do livro (de sua autoria) e corria assim e terminava assado. Como o personagem
joão, assim mesmo, com minúsculas, “um monte de rugas sorridentes”:
“No fim de um ano de trabalho, joão obteve uma redução de quinze por cento em seus vencimentos. joão era moço. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. (...) Finalmente, deixara de jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. (...) Aos sessenta anos, o ordenado equivalia a dois por cento do inicial. O organismo acomodara-se à fome. (...) O corpo era um monte de rugas sorridentes. (...) — Seu joão. O senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias (...) O crânio seco comprimiu-se. A boca tremeu, mas nada disse. Enfim, atingira todos os objetivos. Tentou sorrir: — Agradeço tudo que fizeram em meu benefício. Mas desejo requerer minha aposentadoria. (...) — Mas seu joão, logo agora que o senhor está desassalariado? Desprezar tudo isto? Quarenta anos de convívio? (...) joão afastou-se. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se, planas, compactas. Tornou-se cinzento. joão transformou-se num arquivo de metal”.
“O Brasil supera
a ficção”, escreveu certa vez Victor Giudice num painel de “frases escolhidas”
que eu pregara na parede de minha sala na redação da Revista Cacex, no Rio dos
anos 80. As frases vinham logo abaixo de um “Decálogo” (que terminou por se
estender por 16 itens), onde eu procurava dar algumas dicas aos redatores. O famigerado
decálogo era puro folclore, mas acabou funcionando: amenizou, e muito, o meu
trabalho de copydesk. A turma, que já “redatorava
com galhardia”, passou a uniformizar seus escritos. Sem mal-entendidos, sem
ninguém se levando a mal, sem isso ou aquilo. Só isso aí:
1. Cingapura sempre com C de Cataguases. 2. Têm, no plural, sempre
com circunflexo. Ou, melhor & mais simpático, com “chapéu”. 3. Países
Baixos jamais com hífen, a não ser em francês. Pode me chamar de Holanda. 4.
RDA é República Democrática
Alemã. 5. E, por favor, RFA é República Federal da Alemanha (Ainda havia o Muro e as duas Alemanhas).
6. Infraestrutura sem hífen, como podem ver. Socioeconômico também. 7. Por
favor, por favor, ascensão nunca teve
cedilha. Abaixo a “ascenção”. 8. Todas
as siglas em “cAb” (caixa Alta e baixa), a não ser as que não são: Cacex, Fiesp, cif, fob, Otan, Gatt, Comecom etc.
9. Terraplanagem, não: terraplenagem. Tornar a terra plena, não
plana (parece que foi hoje. E não é?). 10. Vírgula entre sujeito e predicado
dá cadeia! Escrever outrossim também. 11. Outrossim, meu Zeus!
Jamais, minha gente! Só mesmo o Blota Jr., que não só escrevia como falava assim. 12. Títulos sempre “curtos & grossos”, como diz o Ziraldo. Quer
dizer: claros, objetivos. 13. Abertura de matéria de capa respeitando o
espaço máximo de 15 linhas. Quando possível, menor ainda e exatamente como os
títulos: “curta & etc”. 14. Procurar
sempre uma linguagem cristalina, como o engenheiro de João Cabral, que “sonha
coisas claras/ superfícies, tênis um copo de água”. Isto é, veja & olhe a
manchete: “sem economês”. É importante o leitor se sentir atraído pelo texto, que
não precisa “brilhar”. Nós já somos “brilhantes” o suficiente para incomodá-lo.
O necessário é que ele capte e assimile a informação. Este é o papel e a razão
de ser da Revista. 15. Não “de
leve”– mas “breve, periferia”. 16. Autossuficiência com a empáfia de todos
os esses e sem a humilhação do hífen.
Já as frases,
pois é, aquelas inacreditáveis frases, sem pé nem cabeça (ou cabeça demais e
pés de menos), aquelas frases – tipo “Nossas imaturidades seguem trajetos
diversos”– eram quase todas manuscritas no painel pelo próprio Victor – mordaz,
bem-humorado, sagaz como sempre: “Temos laços, não compromissos”, “O fim da
vanguarda é suicidar-se”, “Só o fantástico é lógico”, “A vida real é pura
fantasia”, “Remédio não cura saudade”, “Não há quem não sofra a frenação
estéril do rotinismo burocrático”. “A ficção parece absurda porque é a
realidade despojada de todas as mentiras” (ele escrevia, citando seu próprio Necrológio). Um
dia eu escrevi no painel, citando Paulo Francis: “Roma me parece Terceiro
Mundo. Tudo me parece Terceiro Mundo depois de Nova York”. Victor completou:
“Inclusive a própria”.
Croquetes do alemão
Impagável,
palavra certa quando se trata de Victor. Muitas vezes nos assustávamos quando a
porta se abria num estrondo, enquanto um impávido Victor Giudice adentrava a redação da Revista
Cacex com os passos cadenciados numa marcha militar, som de tarol e surdos
martelados na boca – e uma metálica e inacreditável voz daqueles narradores de
trailers de um dos históricos filmes de Hollywood, quem sabe de “Os dez
mandamentos”: A thousand years before
Christ the Roman Empire...” e continuava a marchar – o incessante martelar
do surdo a ecoar da boca risonha.
Cozinheiro de
mão cheia, domesticamente sua faceta de chef
mostrava-se em sua plenitude na feitura de papas portuguesas, especialidade
“victoriana” que nos trazia fumegando, do alto de son chapeau devidamente a caráter, seu toque blanche, a touca branca dos melhores maîtres dessa e de outras praças. Uma figuraça, um fabulista
daqueles históricos: “Ronnie, acabo de chegar de Petrópolis. Parei no Alemão e
comi dois croquetes. Sabe da maior? Psss! (e levava o indicador aos lábios,
sussurrando) D-e-s-c-o-b-r-i a fórmula secreta, a fabulosa receita: te convido
amanhã pruns croquetes daqueles croquetais.”.
Além dos croquetais e outras de firulas
culinárias, Victor Giudice – escreveu nosso amigo em comum, o crítico de cinema
Carlos Alberto Mattos, no prefácio do livro póstumo dele, O Museu Darbot e outros mistérios & do Catálogo de Flores
(1999) – “guardava na memória a partitura de óperas e sinfonias inteiras e
podia regê-las como um legítimo maestro, assim como cantava árias com razoável
desempenho de tenor”.
Fora suas “atividades
quetais”: Victor era dramaturgo, ótimo
contista, romancista de peso e talvez o mais generoso crítico de música erudita
que o Jornal do Brasil conheceu. Não por acaso, era um habitué do Municipal, que frequentava desde a adolescência. Ele possuía
a curiosidade própria dos grandes escritores – aquele intenso poder de
observação, faca de aguçado gume, que os leva a se interessar por tudo e por
todos: gente, comida, música, perfume. Victor Giudice foi uma pessoa especial,
extremamente culta e bem-humorada.
E escrever
“culta e bem-humorada”, assim nesse feminino puxado por “pessoa”, é uma forma
de torná-lo vivo na memória. O fato é que ele brincava dessa forma com todo
mundo, como se afetado fosse: “Vi
ontem o concerto da Karajan (o
maestro Von Karajan) no Municipal. Ela estava
ótima!”. A Ronnie (eu mesmo!) tem
razão: Oito e Meio é o melhor filme
da Federica (leia-se Federico
Fellini).
Outros de nossos
“filmes em comum” (sobre a qual conversávamos várias vezes) eram as fitas em
série, como “Os Perigos de Nyoka”,
que ele viu na infância de São Cristóvão e eu na de Cataguases (tenho até hoje
o roteiro de um curta que escrevi, ainda não realizado, que se chama exatamente
Os Perigos de Nyoka). Ele era fã de
cinema, cinema europeu, principalmente italiano: Fellini, Visconti, Germi,
Antonioni (lembro até hoje dele me “narrando” aquele histórico plano-sequência
de sete minutos em Profissão: Repórter). Não
gostava muito do cinema americano, embora se deliciasse com os musicais da
Metro, principalmente os estrelados por Gene Kelly e Fred Astaire. Não por
acaso, acabou tornando-se emérito sapateador.
 |
| O camaleônico Victor: de Fellini a Haroldo de Campos |
John Wayne, chicletes, coca-cola
Uma peça, “a Victória”. Tinha sempre uma
frase-bomba, como: “Odeio tudo que é americano – coca-cola, chicletes, John
Wayne, guerra da Secessão”. Engraçado que, tempos depois, lendo “O Observador
no Escritório”, memórias de Carlos Drummond de Andrade, encontro uma boutade parecida, que nosso poeta maior
atribui a Olavo Bilac: “Detesto tudo que é alemão – Goethe, Wagner, chucrute”.
E não é que – cheio de coca-cola, chicletes & John Wayne – o jovem Victor,
imaginem!, ganhou o 1º lugar no programa de calouros de Ary Barroso, imitando
“O Cantor de Jazz”? A cara pintada de preto, Mammy na vitrola, em playback: nunca ninguém foi tão Al Johlson – papel carbono, primor de pantomima.
“As verdades só
são verdades quando se apresentam sob a capa da imaginação”. Viola da vez,
volto (sempre!) ao Victor, autor desse aforismo – vindo de seu “quase-romance” Do Catálogo de Flores – e de outros mais,
aforismos & babados diversos. Como cantar um hilário samba-enredo sobre São
Cristóvão. “Niteroiense de São Cristóvão”, para onde se mudou com os pais em
1939, aos cinco anos, o bairro carioca era sua “Macondo”: ali e a partir dali,
passou a manipular seus personagens vida afora – às vezes reais, imaginários
quase sempre.
Foi em sua casa
de São Cristóvão que eu o conheci, numa tarde perdida-encontrada da década de
1970. Ainda com fartos cabelos semi-grisalhos, largo gestual, nunca em sua vida
ele foi tão italiano, tão Marino del Giudice, tão parecido fisicamente com
Fellini. Saí fascinado de São Cristóvão, debaixo do braço um exemplar de Necrológio – esse que está aqui em
minhas mãos, com a dedicatória: “Para o Ronaldo Werneck, com a simpatia do
Victor Giudice, São Cristóvão, 10.6.73”.
Décadas mais
tarde, ele assim descrevia o bairro querido em seu romance inacabado: “São
Cristóvão é o admirável mundo novo de
quem descobre um universo particular contido numa cidade. (...) Daí sua
autenticidade, sua graça, sua razão de se tornar mito”. Engraçado que, na
maturidade, o “Fellini de São Cristóvão”, barbas e cabelos brancos e já
rarefeitos, era a cara do concretíssimo poeta Haroldo de Campos.
Foi por esses
tempos que ele me presenteou com um aprumado moleskine (palavra que ainda não
era de nosso repertório), no formato de um livro 15x21cm, capa dura, cobertura
em preto acetinado, miolo em papel caseiro reciclado, coisa inédita na época.
Entregou-me dizendo que era para eu “escrever ali meus belos poemas”. Qual o
quê! O presente era tão precioso que continua aqui e ainda agora em minhas mãos
– mas intacto até hoje, as folhas em branco. Perdão, em pardo.
Ah, sim: o tal
samba-enredo sobre São Cristóvão. Pois é, quase se perdeu por aí. Deu-se que
Victor havia conhecido (ficção? verdade?) um sambista do bairro, que não ficava
nada a dever para aquele – com o perdão do politicamente incorreto – samba do
crioulo doido do Stanislaw Ponte Preta. Então, a letra de seu samba em
homenagem a São Cristóvão era porque a palavra “São Cristóvão” – que vinha de
cambulhada com um desfile de nomes de vários bairros cariocas – caía na nota
mais alta da música: “Elementar! Elementar!” – dizia o famigerado sambista
santocristovense pro Victor e o Victor pra mim, numa larga risada, enquanto
entoava o famigerado “São CrisTÓvao!”.
E nem bem
acabava de “levar” seu samba ele já puxava um papo eruditíssimo: Pierre Boulez,
Brahms, Stockhausen, Haydn, dodecafonismo, Beethoven, Schöenberg, Webern,
música serial, impressionismo, nouvelle-vague, neo-realismo, nouveau roman & outras amenidades que a gente vai
tecendo vida afora só pra amortecer a morte, fio que se desfia. Victor Giudice
foi principalmente um eterno curioso, que via com compaixão o ser humano, nosso
súbito oscilar entre o sublime e o ridículo – universo e matéria-prima de seu rico
fabulário.
Fazer literatura
“Qual a diferença entre gostar de ler e
gostar de literatura?” – pergunta Pedro Maravella, personagem e “autor” dos
sonetos do romance projetado em Do
Catálogo de Flores. “Eu acho que a resposta está na pergunta” – diz o
narrador (o próprio Victor Giudice). “Quem lê só lê. Quem gosta de literatura,
além de ler, também faz literatura” (...) “Fazer literatura não é só escrever.
Você pode passar a vida inteira escrevendo e não fazer literatura nenhuma.
Fazer literatura é escrever com a intenção de representar, de reproduzir alguma
coisa material, ou até mesmo abstrata”.
“Escrever com a
intenção de representar”: acho que cabe agora copiar aqui, neste belo e intacto
moleskine que o Victor me presenteou, algumas estrofes dos estranhos sonetos
dessa personagem insólita criada pelo Victor, o poeta Pedro Maravella, coisas
como:
De quantas pétalas então será
o passo certo dessa vida-estrada,
o verso exato dessa estrada-vida?
Quem sai daqui pensando em chegar lá
tem que marchar em pétala marcada.
Quem sabe não tem volta, só tem ida?”
Ou
Se passo fome a minha fome é santa.
Não tenho a cara estúpida e feliz
de quem toma café, almoça e janta.
Ou o inusitado epitáfio
de seu último soneto:
Vivi muitos invernos. Meu outono,
tão breve quanto a primavera,
fez desse príncipe com ar de fera
um velho doido como um rei sem trono.
Essa coisa que agora eu abandono
e a outra coisa neutra que me espera
flutuam pândegas na estratosfera,
iguais em tudo, gêmeas de carbono.
O mal que fiz na vida foi pequeno.
Só tive mágoas como companheiras.
Jamais provei o grão de um bem terreno.
Verões que desejei, dou este aceno
Às flores que sonhei por verdadeiras.
E aqui eu me despeço. Vou sereno.
Ou ainda o
epitáfio (que poderia ser o seu) de Carlos Maria, personagem de outro de seus
livros:
Mesmo que
para sempre tu me ames
quando eu morrer, um dia, não me chames
estarei só
um raio estereofônico
ouvindo Brahms.
Quixote, unguentos & tremoços
O que nos leva,
não por acaso, a alguns insólitos fragmentos de um poema de meu livro minerar O branco (2008), aquele O sol sobre a lua, dedicado in memoriam a Victor Giudice, que vinha
com uma epígrafe (dele mesmo, Victor) atribuída ao Balu, um poeta pirado de
pedra que conhecemos no Rio daqueles também pirados anos de antanho. Acontece
que a amada de Balu morava em Niterói, para onde ele delirava em fazer a
travessia – não pelas barcas, mas por meios nada convencionais: Acabou-se o tempo/ dos Quixotes de la Mancha/ Quixote hoje vai de moto/ vai de lancha. Sim,
acho que vou agora também “macular” o moleskine que o Victor me deu com trechos
de O sol sobre a lua:
O sol sobre a lua
O poeta às vezes
explode com os meses
dejetos desafetos objetos
tocantes & torqueses
às vezes o poeta
se desacerta se irrita
se arreta e bibirita
e reverbera e reabilita
sujeitos mitos
e outras patentes
verbos complementos
e unguentos pertinentes
mas atleta
cão-de-fila
joco-sério
o poeta se perfila
zonzo
entre o zanzar dos hemisférios
é um cão como tantos
o poeta entre tremoços
o triscar do almoço
e o sol sobrando
acorda entre o osso
e a corda no pescoço
o poeta de novo e de novo
se queda e soluça
e se debruça
quimérico sol
que se solta da rota
zonzo sol zonzo só sol que some
entre o zanzar dos hemisférios
sol sobre a lua
a soçobrar do mistério.
Fimose & instrumentos de praxe
Registrei num
papel solto, e inacreditavelmente intacto até agora, minha impressão sobre um
insólito papo no saguão do prédio onde é hoje o Centro Cultural Banco do
Brasil:
Encontro Victor Giudice no hall do BB na 1º de
Março, recém-operado de fimose aos 50 anos: “Ronaldo, você nem imagina! Ontem à
noite tive uma ereção e sangrei todo. Acabei baixando hospital. Estou com o
instrumento envolto em gaze, todo enroladinho: veja!”. E ameaçou abrir o zíper
pra me mostrar o estrago, o saguão fervendo. Eram exatamente 13 horas de
novembro, 27, 1984. Victor Giudice, fimose, ereção, zíper, BB & demais
instrumentos de praxe nunca são lá muito harmônicos nem verdadeiramente de
praxe.
Por essa e
muitas outras, Victor Giudice foi único, inesperado – um inacreditável
personagem de si mesmo, em toda a sua plenitude. Desses que fazem falta pela
vida afora – e para sempre. Retiro das anotações feitas por Victor Giudice para
o inacabado Do Catálogo de Flores
dois trechos entrelaçados com o seu fim. “Nós somos imortais em cada segundo
que vivemos, depois do segundo que passou e antes do que ainda vem”. E esse
pequeno poema: “Um dia me dirão de certa morte/ e eu me direi então de minha
sorte/ de ainda ouvir dizerem de outras mortes”. E fecho com um verso meu: “Todos
nós nos partimos sós”.




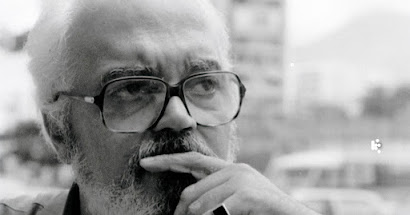
Um comentário:
Belas lembranças do inesquecível Victor Giudice, uma inspiração de arte e de vida que ficou pra sempre conosco. Grato, Ronaldo, por trazê-lo de volta dessa forma tão presente.
Postar um comentário