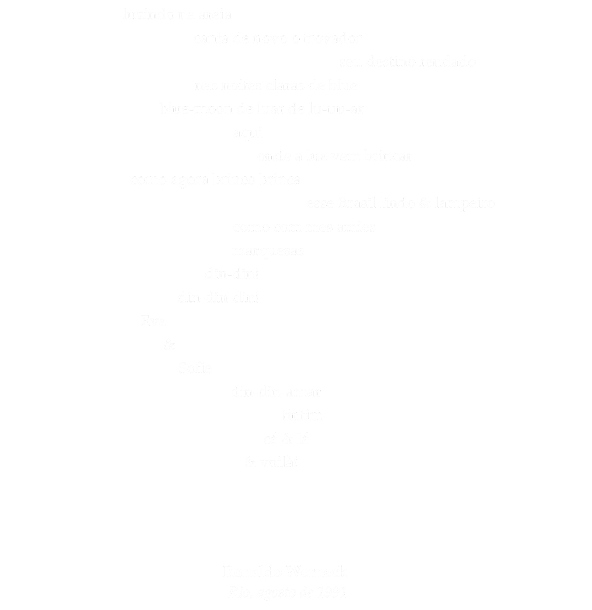Mineira de Cataguases e habitante de Brasília desde os primórdios de sua construção, a professora universitária e ensaísta Lina Tâmega Peixoto (Cataguases, 5 de junho de 1931 – Brasília, 1 de setembro de 2020) é poeta de longo curso, e das grandes. Cidadã do mundo, profundamente marcada por suas raízes portuguesas, na verdade ela nunca se desprendeu totalmente do mundo-Cataguases. Seu tio, o escritor Francisco Inácio Peixoto, um dos ases da revista Verde, disse certa vez: "Vivo em Cataguases fora de Cataguases".
Já Lina, que tinha o tio como um de seus mestres desde quando escreveu seus primeiros versos, foi na direção inversa: "Ser mineira de Cataguases é o que não me faz ser estrangeira em Brasília, é o que me faz ser habitante de qualquer rua do mundo e nunca ser traída no meu jeito de viver”. Ela morou na Capital Federal desde antes da fundação da cidade: seu marido era engenheiro e foram para o Planalto Central ainda nos anos 1950. Mas nunca se esqueceu de Cataguases. Voltava à cidade sempre que possível. Há exatos dois anos, setembro de 2020 em Brasília, foi levada pela pandemia.
Moderna que nem ela
 |
| Francisco Inácio Peixoto em seu escritório. |
Cataguases! Cataguases!/ um barco no rio Pomba/ e uma menina que pesca/ nas águas a própria sombra – escrevia Cecília Meireles quando esteve em Cataguases em 1951, no poema Quadro a quadro, dedicado à sua amiga Lina Tâmega Peixoto. Antenada na modernidade. Tratando-se de Cataguases, não é apenas uma expressão a mais. Desde os anos 1940, a cidade passou a “respirar o moderno” por todas as suas ruas. Prédios, esculturas, monumentos – tudo, quase tudo hoje tombado nessa cidade que é um monumento vivo do modernismo no interior do país. Aquela casa “esquisita”? Ali morou aquele “poeta moderno”, Francisco Inácio Peixoto, um dos fundadores da revista Verde, a principal vertente do movimento modernista de 22 no interior de Minas, com conexões em todo o Brasil e até mesmo no exterior.
O mesmo Chico Peixoto que, em 1940, vai chamar Oscar Niemeyer para projetar sua casa – a primeira de fatura moderna na cidade e uma das obras iniciais do jovem arquiteto. Nela, jardins de Burle Marx, escultura de Jan Zach e de José Pedrosa. E, em seu interior, mobiliado por Joaquim Tenreiro, telas de vários expoentes do modernismo, daqui e do exterior. Niemeyer seria “convocado” também, em 1947, para projetar o moderníssimo prédio do Colégio de Cataguases, referência do ensino secundário no Brasil dos anos 1950.
Para melhor situar a importância de Francisco Inácio Peixoto não só para Cataguases como para a própria poesia de Lina Tâmega Peixoto, transcrevo mais à frente alguns trechos do longo texto que ela me enviou para compor a edição especial sobre Cataguases que organizei para o Suplemento Literário Minas Gerais em 2013.
Além de Francisco Inácio Peixoto, Lina recebeu vários aconselhamentos sobre poesia de seu primo português, o crítico literário Hernâni Cidade, com quem se encontrou várias vezes em Portugal, terra de seus ancestrais. “Vi Portugal com os olhos de Hernâni Cidade”, diz ela. “Junto a ele, aprendi a buscar o equilíbrio e o prazer – estados do mundo sensível – para unir o espírito à intuição crítica reveladora. Enfim, descobri os aspectos que interpretam e constroem a poesia, impregnada de emoção e encantamento e de uma particular reflexão intelectual no emprego da linguagem”.
Lina esteve sempre ligada às suas raízes portuguesas na cidade de Amarante, cortada pelo rio Tâmega, onde voltou muitas vezes. E foi exatamente em Portugal que nos vimos pela última vez, em 2019, quando ela esteve presente ao lançamento de meu livro de poemas Momento Vivo em Lisboa. Mas vamos focar em sua principal influência: Francisco Inácio Peixoto (Cataguases,1909-1986), visto pela sensível escritura da poeta.
Escritura: Lina & Chico Peixoto
 |
| No lançamento de "A Janela", autógrafo para poeta Lina Tâmega Peixoto. |
Quando a poesia se fez um campo, onde o imaginário desvelava a realidade, em gozo e beleza, e a palavra era um desafio no transpor as experiências de vida em consciente linguagem poética, busquei a presença de Francisco Inácio Peixoto, meu tio. Foi ele o meu primeiro leitor e crítico. Cataguases, na década de quarenta, movia-se em arte, num latejar de ideias, projetos e produções de cunho artístico. Não cabe nesta narrativa enumerar a modernidade, comandada por Francisco Inácio Peixoto, no esforço e trabalho em recriar a sua cidade, pelo estimulo à construção do Colégio de Cataguases, aquisição de quadros e esculturas para compor o acervo do futuro Museu de Arte Moderna, incentivo às atividades literárias, intelectuais e estéticas dos novos escritores, cineastas, pintores, atores ou aos apaixonados pelo fazer outras formas artísticas, cerzidas pelos pespontos de desejo, de delírio e de astúcia. Sua figura avultava sobre este universo plurivalente de realizações artísticas e representava o eixo central do imaginário simbólico de Cataguases. Ainda hoje, sua memória interfere no pensamento e nas ações em que se fundamenta o contexto político da cidade, em suas múltiplas vertentes culturais.
Devo a Francisco Inácio Peixoto meu aprendizado primeiro na construção do poema e no amadurecer as algemas da realidade. À noite, era para sua casa que me dirigia, tremendo os poemas na mão, pensando se haveria um peso excessivo nos versos, mesmo que fosse o de palha ou de nuvem. Sentava no chão, junto à espreguiçadeira, belíssima, azul e branca, obra de Tenreiro, onde meu tio se recostava, após o jantar. Entregava-lhe meus poemas manuscritos e o ouvia reclamar, sempre, da dificuldade da leitura, pelas letras, bambas e tortas. Era um longo silêncio este encontro de poesia caminhando na mão inquieta de meu tio que, às vezes acompanhada de murmúrios, esmagava com o dedo uma vírgula caída de mau jeito, tocava a palavra contraditória e ingênua ou apontava a sintaxe dúbia. E depois, vinha a voz, com cruel doçura, me dizer que, apesar destes cascalhos, o poema tinha um certo frescor e secreta substância onírica, e, portanto, era bom.
Era com este adjetivo que expressava sua aprovação. Ao escutar o veredito, ultrapassava o tempo, pulava as cercas da escuridão e me entupia de alegria e emoção. Em outras ocasiões, me aconselhava a guardar o poema na pasta. E isto, para mim, apontava o descuidado ajuste da inteligência criadora e a vulgarização da beleza, sensações que me causavam ansiedade e dúvidas. Explicava-me que esquecer o escrito representava o necessário distanciamento para que, posteriormente, pudesse olhar os versos como um objeto a ser reconstruído pela linguagem em sua plenitude de sedução. Relembro seu jeito de inclinar a cabeça sobre o papel e o bigode costurado em cima da boca pelo reflexo da luz que vinha do spot no teto. Mostrava-se atento às minhas inquietações em lidar com o exercício difícil da construção do poema que exigia rupturas, cortes, remendos até que, reconstruído pelo espírito criador, se firmasse na página, em equilíbrio e silêncio. Suas palavras reforçavam ser necessário o conhecimento das forças estilísticas e estruturais da linguagem, a fim de receber o pensamento poético, mais rico e elaborado em suas imagens e signos.
Eu conhecia sua importante participação no movimento modernista brasileiro com a publicação de Verde e havia lido muito de sua rica e expressiva produção literária. Avulta sobre tudo isto a ressonância do afeto de meu tio, o familiar aconchego à emoção estética, em exigir de mim o que estava confinado, em crepuscular promessa, para se romper em arrebatamento poético. É com o coração que escrevo sobre sua presença em minha vida familiar e literária. Dou a ele meus quinze anos de idade com suas estranhas e impetuosas imagens, nascidas das experiências da infância e a elas acrescento muitos anos no alcance do lento e sofrido aprendizado da literatura. Agradeço a meu tio, Francisco Inácio Peixoto, ter-me ensinado a transformar as formas nebulosas de minha expressão poética em nítidas estrelas. Quando publiquei meu primeiro livro, recebi dele uma carta, onde dizia: “Sempre gostei de sua poesia, onde encontro uma linguagem mágica que me enternece. Desde os vagidos iniciais, você nunca me desmereceu.”.
Recebi de Rosário Fusco – com quem, anos mais tarde conversava sobre o ofício de escrever e sobre o papel que Cataguases devia reassumir no campo da literatura brasileira – do mesmo modo que de outros escritores, como o do meu primo Hernâni Cidade –, estímulos e conselhos para o exercício de escrever. Acrescento a esta breve menção histórica o nome de Marques Rebelo. Ele incentivou o meu sonho e o de Francisco Marcelo Cabral em editar uma revista literária, o que se concretizou nos anos 1948-1949, com Meia Pataca. Seu apoio se fez tão essencial e relevante, que sem ele teria sido quase impossível existir a revista.
Lina e Meia Pataca por Chico Cabral
 |
Rio, 2009: RW, Lina & Chico Cabral. Livraria da Travessa-Ipanema. |
Não tenho nenhum exemplar à mão. Mas foi uma bela revista, impressa em papel couché, que serviu de berço a dois poetas: Lina Tâmega Peixoto e eu, nesta ordem de importância. Mas é preciso que se diga: Meia Pataca inteira foi obra da Lina. Era ela que, além do parentesco ilustre – Peixoto, ilustre por causa do Francisco Inácio – tinha a verdadeira vocação das letras, tão consistentemente confirmada depois. Digo mesmo – e disse-o em meu poema-livro Inexílio (Imprinta Editora, Rio, 1979) – Lina foi minha mestra. Sua escritura sutil, sua sensibilidade irredutível às platitudes do discurso trivial, marcaram para mim a extensão e as fronteiras do território em que viceja o poema – essa infração, essa refração, essa contínua derrapagem nas estradas do idioma, esse artefato como todos inútil, mas capaz de deflagrar a centelha da desbanalização e reavivar a fala e suas falsetas.
E sem metáforas: Meia Pataca inteira foi obra da Lina. Edição, diagramação (com umas dicas do Rosário Fusco), secretaria, redação de sueltos e resenhas, enfim, ela estava em todas. Eu fui o bói da redação e fiz algumas resenhas por ordem dela. À nossa volta, torcendo para que déssemos certo: Marques Rebelo e Fusco (em cuja casa conheci Antônio Fraga, de quem obtive o fragmento publicado num dos números de Meia Pataca, o velho Fraga que, antes de qualquer outro, me falou de Gomringer e seu Kindgarden – concretismo avant la lettre – a revelação de uma nova concepção estética que só muito depois assimilei. Uma colaboração de Marques Rebelo – transcrevendo um trecho de Verlaine em que ressalta a técnica de composição nas alterações introduzidas no texto – foi para mim a evidência de que o poema é um construto passível de aprimoramento, como eu percebia em Manuel Bandeira e Murilo Mendes (quando “ainda não havia para mim” João Cabral de Melo Neto).
O ninho de Meia Pataca foi a casa de Francisco Inácio Peixoto, melhor dizendo o seu “salão” onde resplandecia, ao lado do dono da casa, o gênio carioca de Marques Rebelo (cuja amizade sempre me honrou e durou até sua morte) e que foi frequentado por gente como Walter Benevides, João Cabral de Melo Neto, José Morais, Luciano Maurício, Cecília Meireles e tantos mais. As duas figurinhas de jovens poetas – Lina e eu – vamos reconhecer: talentosos ou, pelo menos, promissores – despertaram a solidariedade desse grupo de intelectuais que andava pela casa dos 40 ou 50 anos, talvez menos.
E foi assim que nasceu a revista, extremamente cuidada graficamente, sem qualquer “agressividade” de gente jovem. Sem qualquer malícia na seleção das colaborações que nos chegaram, Lina e eu fomos os melhores poetas publicados por Meia Pataca. Quem quiser que confira. E assim como o salão de Francisco Inácio Peixoto gerou Meia Pataca, gerou O Centauro, edição de 1.000 exemplares (que eu levei anos e anos para esgotar sob a forma de presente compulsório), composto e impresso na Tipografia Ribeiro, em 1949, para a inexistente Editora Meia Pataca (leia-se Edição (do Pai) do Autor). E o livro de Lina, Algum Dia, editado lindamente em 1952 pela Editora Hipocampo, do poeta Thiago de Melo, e de que eu infelizmente não tenho nenhum exemplar. Lina e eu construímos uma obra pequena (Guimarães Rosa me chamava de “escasso producente”, com amizade e cobrança). Pelo prazer e por compromisso intelectual, Lina é uma leitura obrigatória.
Tantas Linas! De muitas maneiras se podem ler seus poemas! De muitas maneiras se pode neles viajar, numa visitação impregnada da volúpia essencial, que só bons poemas nos concedem desfrutar, como se a alma movediça do poeta nos invadisse com suas mentiras de ouro e sal, e com a força de sedução e perdição dos vícios. Lina nasce, também como poeta, em Cataguases, respira Amarante e Brasília, para afinal confessar com dura tristeza e certa dose de perdão: “Como bicho assustado/ cravo os dentes no ar/ e embruteço minha ternura/ para viver no desencontro/ de qualquer lugar/ Brasília ou Cataguases/ – a mesma encruzilhada de amor/ a mesma teia emaranhada/ de um labirinto sem saída”.
Lina respira poesia
É ainda nesse prefácio que Lina cita Walter Benjamin: “para o poeta, rememorar a vida se torna mais importante e essencial do que a vida que se viveu”. E escreve: “Há um tempo dimensionado entre mim e minha infância, um tempo que decomponho, com ambígua e alegre disciplina amorosa. Desse modo, Engendro ruídos do acaso, labirinto de mitos,/ geografia da carne, remendos da infância e reduzo a distância de antes e a de agora/ para cerzir o nosso tempo/ à superfície do abandono”. Cerzir o nosso tempo. Pedra de toque, a metáfora é pura Lina. Costureira de palavras, ela vai alinhavando suas metáforas linha por Lina, Lina por linha, com grande e insuperável mestria.
 |
| Cataguases, 2019: lançamento de “Alinhavos do tempo”. |